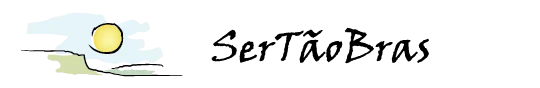por Carlos Alberto Dória
Apesar da mundialização, o mundo rural se perpetua no discurso nacionalista dos costumes gastronômicos
Pode a gastronomia –esse saber gratuito que, como diz Manuel Vasquez Montalbán, não altera a relação entre o conhecimento e a necessidade- ajudar um povo a encontrar a sua “expressão”? Por acaso um prato ou um produto, como o vinho ou o queijo, pode ser tomado como sinônimo de uma nação ou região?
Numa época onde reaparece com vigor a discussão sobre nacionalismos, regionalismos e a feição que o Estado moderno deve ter, eis que surge um excelente trabalho acadêmico para ajudar a desvendar esta questão para o caso da França. Esse foi o propósito de um colóquio ocorrido em 2005, na Universidade de Versailles, em colaboração com a Sociedade de Etnologia Francesa, conforme a recente publicação dos seus anais1.
Mas nação e região não são categorias simples. Elas se formaram, como as conhecemos, ao longo do século 19. E depois que a Prússia invadiu a França em 1870, se apropriando da Alsácia-Lorena, Ernest Renan, um intelectual francês que sempre gozou de amplo respeito no país e no exterior, pronunciou conferência na Sorbone sob o título sugestivo: “O Que É Uma Nação?”.
Naquela fala, que ainda hoje é uma referência para a ciência política, Renan passou em revista todos os argumentos do seu tempo sobre as características que definiam o Estado nacional –uma questão candente, especialmente para os países de formação tardia, como a Alemanha e a Itália. Após resenhar os argumentos com base no território, na língua, nas tradições e na religião comum ao povo, Renan destacou como crucial a vontade dos cidadãos de permanecerem juntos.
Hoje não duvidamos mais desse aspecto censitário, especialmente depois do novo traçado dos países centro-europeus, após o desmantelamento da União Soviética e dos pequenos estados dos Bálcãs. O que se discute, ao contrário, é o quanto de artificial havia na arquitetura dos velhos Estados, mantendo a unidade pela força que se justificava com base numa miríade de tradições étnicas, linguísticas e religiosas. Os Estados –ficou claro– eram frutos mais da coerção do que da vontade dos cidadãos de permanecerem juntos. E se, no final do século 20, essa vontade prevaleceu, foi à custa de muito derramamento de sangue.
Em meio a essas mudanças, surgiu, do ponto de vista econômico e cultural, uma nova concepção de território. Ela tem origem na noção de “terroir” e passa a se referir sobretudo a uma dimensão política forte. Trata-se de uma parcela de território, em geral recortada a partir da uniformidade de uma produção agroalimentar artesanal, protegida por uma legislação adequada ao desenvolvimento local que se desenvolveu nas últimas décadas.
Milhares de produtores de várias partes do mundo se enfrentam diariamente em um mercado mais amplo e competitivo e necessitam de argumentos para consolidar as suas posições. Esses argumentos são mais fortes quando frisam a singularidade do que fazem, destacando qualidades físicas ou atributos do trabalho que não são encontrados em outras partes, e esse discurso de venda conta com o apoio decidido do Estado. A reabilitação de velhos queijos de “terroir” e a delimitação de novas DOCs (denominações de origem controlada) se deu após os anos 19702.
A origem dessa legislação, que se espraia pelo mundo, é a estratégia de desenvolvimento local da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sugerida aos países membros após os anos 1980, depois da globalização que abalou a produção industrial seriada, gerando desemprego e a clara decadência de territórios inteiros (bairros, distritos ou mesmo países). O microtratamento da economia passou a ser um expediente largamente utilizado no mundo dos negócios, e o tema da “identidade” de produtos e territórios ganhou novo impulso.
Mas o tema não é novo. Adam Smith, em “A Riqueza das Nações” (1776) já havia chamado a atenção para o caso particular das mercadorias que têm uma história associada ao local da produção. Ele percebeu isso ao analisar o vinho: “A diferença dos solos afeta a videira mais do que qualquer outra árvore frutífera. De algumas resulta um sabor que não se consegue em nenhum outro cultivo ou método de manejo. O sabor, seja real ou imaginário, é muitas vezes típico da produção de uns poucos vinhedos; às vezes se estende pela maior parte de um pequeno distrito, e às vezes por uma parcela considerável de um distrito grande. A totalidade desses vinhos, quando levada ao mercado, não consegue atender à demanda efetiva (…). Por causa disso, estes vinhedos são em geral cultivados de maneira mais cuidadosa do que os demais, e o alto preço dos vinhos parece ser não o efeito, mas a causa desse cultivo mais cuidadoso”3.
Só muito recentemente alguns estudos realizados na França, Espanha e Inglaterra demonstraram, em alguns casos, que havia uma base objetiva para “terroirs”; quando condições físicas locais, aliadas a processos de trabalho singulares, resultavam mesmo em produtos diferenciados (uísques, vinhos, presunto etc.). No entanto, onde esses estudos não confirmaram esta relação território/produto, ou não foram feitos, só pode prevalecer a intuição de Adam Smith de que, muitas vezes, estamos diante de fenômenos imaginários.
Mas por que a identidade deva se apoiar em critérios de objetividade duvidosa? Ora, “identidade” é palavra ardilosa. Filosoficamente sugere uma relação necessária entre os dois termos (sujeito e predicado) de um enunciado. E quando se fala de música, cinema, literatura e gastronomia, relacionando-os com o adjetivo “nacional”, ingressamos num terreno ainda mais complexo e impreciso.
Mas o que o livro “Gastronomie et Identité Culturelle Française: Discours et Représentations – XIXe-XXI Siècles” vem nos trazer é exatamente um apanhado de como se deu a associação entre a gastronomia e a França, a partir do estudo da sua literatura.
Tal associação é amplamente reconhecida a partir do prestígio mundial da obra de Savarin. Deve-se a ele e a Alexandre Dumas pai o fato desse tema ingressar na literatura com tratamento digno. Já no final do século 19 vários produtos aportaram ao mercado mantendo uma nítida associação com o nome de Dumas, que, de alguém combatido por fazer uma subliteratura popularesca, passou a “vender” alimentos. O termo “gastronomia” se populariza com a disseminação dos restaurantes em Paris, a partir do fim do Antigo Regime, em 1801.
Ao final do século 20, o tema da identidade nacional ressurge no meio intelectual, gerando muitas pesquisas universitárias e, no que concerne ao domínio culinário, o reconhecimento da possibilidade de existência de cozinhas nacionais tornou-se uma unanimidade. A “realidade” dessas cozinhas é buscada especialmente nos discursos normativos existentes nos livros de culinária e repercute na produção literária mais ampla.
A tese geral corrente no colóquio de 2005 é a de que a tradição gastronômica, como a tradição nacional, é “inventada”. Para a sua invenção concorreram discursos literários e gastronômicos que se interpenetraram nas obras de Balzac, Stendhal, Dumas etc. Em geral, o romance burguês compara a cozinha servida em Paris àquela das províncias e, nesse processo, defende o patrimônio nacional, os hábitos tradicionais, e difunde o discurso da fisiologia do gosto de Savarin.
Processos políticos também são relembrados. Graças à estreita associação entre o trabalho culinário do chef Antonin Carême e a diplomacia napoleônica (ele trabalhou na corte do czar), e a cidade de Paris, na sua posição de “capital do século 19”, temos que esse centro gastronômico do mundo passou a ser imitada por toda parte nos hábitos culinários das elites.
No colóquio, o assunto avançou também na análise do elogio ambivalente que se encontra na literatura a respeito das cozinhas regionais (Balzac, Flaubert, Zola e Maupassant). Neles, a “grande cozinha” aparece como um tanto artificial e, graças à pouco distância da capital, a “cuisine de province” também parece afetada pelo artificialismo da grande cozinha, preferindo os escritores a “naturalidade” da “cozinha burguesa”. O que se faz na “province”, como hoje entendemos a cozinha tradicional, mais primitiva, talvez mais apoiada nas necessidades locais, não faz parte do discurso gastronômico da época4.
A gastronomização do discurso culinário francês a partir do século 19 gerou, ainda, um processo de sistematização das suas técnicas e habilidades a partir de Carême, Gouffé, Urbain Dubois e Escoffier. Foram eles que permitiram a profissionalização da atividade de cozinheiro neste novo patamar de formulação da “alta cozinha”. Em meados do século, essa cozinha “inventada” em Paris já ocupa lugar de destaque em cidades como New York, Roma, Londres e São Petesburgo. Mesmo num país distante como o Brasil, começa-se a falar francês e comer “à francesa” nos salões da corte.
Este “modelo de salão”, cria um laço de sociabilidade inteiramente novo que reforça os vínculos econômicos e culturais da sociedade ocidental em constante evolução. De fato, a identidade social do Ocidente no século 19 depende do nacionalismo cultural e da cultura das elites para se impor. A demanda mundial do padrão francês de comer enseja, por sua vez, a formação da primeira escola para chefs, aparecida a partir de 1882 (Societé des Cuisiniers Français).
Talvez o melhor exemplo da identificação entre alimentação e “terroir” seja o caso do tartufo bianco d´Alba, que Rossini chamou de “o Mozart dos fungos”. A sua produção é extremamente limitada em área, sendo apreciado desde a Antiguidade; e pode-se dizer que todas as receitas que se produziram mundo afora para esta especialidade pertencem ao seu universo. Produto natural e expressão cultural caminham juntos.
Do mesmo modo –mas com certa dose de invencionice– os grandes chefs franceses nunca se cansaram de pregar que a excelência da cozinha francesa era diretamente tributária da excelência das suas matérias-primas. Somente com a nouvelle cuisine esse quadro pôde mudar, indo os próprios chefs franceses à busca de novos ingredientes em territórios estrangeiros.
Em meados do século 20, as culinárias francesas foram classificadas da seguinte maneira por Curnonsky, o seu mais importante intelectual-gastrônomo: “haute cuisine”, “cuisine bourgeoise”, “cuisine régionale”, “cuisine improvisée” (cuisine “de plein air”). A esta classificação, a escritora inglesa Elisabeth David acrescentou a “cuisine à la française”, que é como se faz, imitando a original fora da França.
Um dos estudos mais interessantes do livro é o de Marion Demossier sobre o discurso enológico francês5. Ela parte do “quase-silêncio” intelectual sobre o vinho na literatura, onde figura sempre como um acompanhamento ou complemento do comer, tornando-o, assim, tributário da literatura gastronômica até que, por volta de 1970, com o surgimento da “Revue dês Vins de France”, os dois discursos se dissociam.
Com efeito, o vinho estava subsumido nos estudos de alcoolização em meados do século 20, o que lhe conferia “indignidade” como tema cultural. Mas a ruptura do discurso gastronômico a partir da invenção da “enologia” se dá, segundo a autora, a partir dos avanços técnicos da química. Então, o discurso se desloca para esse terreno e, depois, para o da medicina.
Mas o discurso do vinho será regionalizado, faltando-lhe a homogeneidade e unicidade acerca da percepção e análise, o que só acontecerá após a obra de Émile Peynaud (“Le Goût du Vin”, 1983). Ate então, o que se escrevia sobre degustação de vinhos era restrito a “superlativos, exclamações, hipérboles e florilégios”, dando a impressão de que a cultura do vinho só podia ser elitista, contraditória e heterogênea; mas Peynaud introduz, finalmente, a abordagem sensorial e abre a possibilidade da intelectualização que faz emergir o moderno discurso enológico francês. E quais são as suas características?
No bojo da mundialização da recente da oposição entre “terroir” e marcas, entre artesanato e indústria, entre rural e urbano, o discurso enológico na França aposta na tradição, no vínculo com o lugar, na distinção e na estética, na autenticidade, no artesanato e na região.
Esta posição se desenvolve no momento em que os produtores ascendem à condição de proprietários, desenvolvem a venda “direta” e os chefs se tornam “intermediários das escolhas, nos processos relativamente anônimos do consumismo (…) e os vinhateiros passam a assumir o papel de mestres na cadeia da produção ao consumo, tornando-se personagens-chave no plano midiático”. Assim, a partir dos anos 1990, surge uma nova literatura regionalista, apoiada na degustação dos vinhos e na publicação de um novo folclore regional sobre vinhateiros, produtores e produtos.
Diante da desordem das práticas discursivas contemporâneas sobre o vinho, o argumento regionalista se impõe como o último bastião do imaginário do vinho. Se na Exposição Universal de 1937 o discurso sobre o vinho apontava no sentido de reportar a uma “França verdadeira” dos “terroirs”, num claro viés nacionalista de direita, hoje a ênfase no vinhateiro aparece como a última garantia de uma França rural, tradicional e autêntica, ao mesmo tempo em que bafejada pelos progressos técnicos e nova formação profissional.
Marion Demossier mostra como o geólogo e o enólogo se aliaram na edificação do sistema DOC para definir a ligação entre “terroir”, qualidade dos solos e hierarquia de preços, iluminando as relações que haviam sido intuídas por Adam Smith há mais de 200 anos.
Beber e comer são atos de identificação, diferenciação e integração, projetando a homogeneidade e a heterogeneidade do “nacional” em vários planos da cultura. A analise dos discursos gastronômico e enológico mostra o apego da França ao que resta como objeto privilegiado de sua expressão identitária em torno da complexidade que é a relação nação/região, com especial destaque para o vinho.
No conjunto, temos que a gastronomia e a enologia se tornam um discurso “em si”, ligado a múltiplas práticas fragmentárias. Diante dos valores do nacionalismo, reforça a variedade de modos de identificação e de perenidade de um discurso em torno do ruralismo que ainda joga papel fundamental na definição da identidade cultural francesa.
1 – Françoise Hache-Bissette e Denis Saillard, “Gastronomie et identité culturelle française : discours et représentations. XIXe-XXI siècles”, Paris, Nouveau Monde éditions, 2009.
2 – Claire Delfosse, “La France fromagère: 1850-1990”, La Boutique de l´Histoire Éditions, Paris, 2007.
3 – Adam Smith, “An inquire into de nature and causes of the wealth of nations”, London, The University of Chicago/Enciclopaedia Britannica, 1952, pág. 67.
4 – Karin Becker, “On ne dîne pas aussi luxueusement en province qu´à Paris, mais on y dîne mieux”, in Françoise Harche-Bissette e Denis Saillard, op. cit., pág. 91.
5 – Marion Demossier, “Le discours œnologique contemporain : région contre nation au XXIe siècle”, in Françoise Harche-Bissette e Denis Saillard, op. cit., pág. 457.
Texto publicado na revista Trópico , em 12 de setembro 2010.