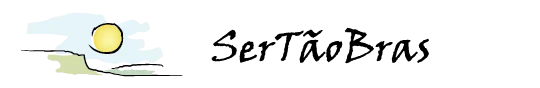Texto: PAULO CESAR NASCIMENTO, Fotos: Antoninho Perri Edição de Imagens: Everaldo Luís Silva
Leila Mezan Algranti e Carlos Alberto Dória analisam, à luz da perspectiva histórica, o papel das práticas culinárias na construção da nação
Pela primeira vez o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp sediou um evento em que o tema alimentação foi discutido à luz da história, do gênero e da cultura material. No início de novembro, um seminário internacional voltado a alunos de graduação e pós-graduação reuniu, no auditório da instituição, representantes de centros de ensino e pesquisa brasileiros e de Portugal em torno de uma série de temas relacionados aos saberes (e aos sabores) das práticas culinárias em diferentes épocas, do Egito Antigo à São Paulo novecentista, contemplando ainda o Brasil colonial.
Organizado pela historiadora e docente do IFCH Leila Mezan Algranti, o encontro expôs o interesse crescente das ciências humanas pela temática alimentar. Recentemente e de forma inédita em uma universidade pública paulista, o curso de graduação em História da Unicamp passou a oferecer uma disciplina intitulada História da Alimentação.
A iniciativa teve como inspiração a disciplina de pós-graduação Sociologia e História da Alimentação, ministrada no IFCH por Leila e por Carlos Alberto Dória, sociólogo e pesquisador do Instituto, e que também integrou uma das mesas-redondas do seminário. Ambos participam da entrevista a seguir, em que o tema central é o debate sobre a construção de uma identidade nacional a partir do que sai das panelas para os pratos nas mesas brasileiras.
Jornal da Unicamp – É possível, em um país com a história de colonização, a dimensão e as diferenças como as existentes no Brasil, estabelecer um símbolo culinário representativo de sua cultura gastronômica?
Carlos Dória – De verdade, não vejo porque se deveria estabelecer símbolos culinários representativos de uma determinada gastronomia. O valor gastronômico na atualidade reside justamente na diversidade, nos múltiplos caminhos do comer. A sociedade de massas, especialmente na sua fase globalizada, é desenraizada. É isso, aliás, que o fast food nos apresenta como espetáculo: cozinha chinesa, japonesa, italiana, brasileira, árabe. Somos todos comedores mundializados no gosto.
Leila Algranti – Durante a colonização, um dos grandes problemas a enfrentar na América portuguesa dizia respeito à alimentação enquanto necessidade básica para a sobrevivência. Isso é válido não só no dia-a-dia dos colonos, mas igualmente fundamental nas longas travessias marítimas e durante as expedições terrestres de reconhecimento do território. Sem víveres, seria impossível um empreendimento de tal porte. É por isso que os cronistas portugueses e demais observadores sempre descreveram com detalhes a natureza americana, a fim de informarem sobre a disponibilidade de alimentos que pudessem garantir e ao mesmo tempo incentivar a vinda dos colonos para esse lado do Atlântico.
É certo que os problemas enfrentados diferiram de região para região, assim como o sucesso ou não da aclimatação de produtos apreciados pelos europeus, pois por mais que os reinóis tenham consumido alimentos locais, sempre preferiram aqueles com os quais estavam acostumados.
Nesse sentido, não temos uma cozinha única no período colonial e sim cozinhas no plural, pois a culinária dependia do intercâmbio entre saberes europeus e aqueles relativos aos produtos americanos transmitidos pelos índios. Assim, se a mandioca foi durante muito tempo associada ao Nordeste, devido à sua abundância, e o milho ao Sudeste e aos bandeirantes, é preciso lembrar que durante os séculos XVII e XVIII a capitania de São Paulo, por exemplo, exportava trigo para as demais regiões. Ou seja, sempre houve um conjunto de produtos importantes na alimentação colonial.
Desde essa época, portanto, é difícil falar em um símbolo culinário para o Brasil. Porém, a partir do século XVIII com a difusão do feijão ou dos feijões, talvez pudéssemos pensar em um produto que paulatinamente foi se tornando representativo de diversas regiões. Até porque são muitas as espécies de feijões e, segundo os especialistas, em cada região se consome hoje um feijão diferente considerado “típico”: feijão preto, roxinho, mulatinho, rajado, verde, etc. Com feijão se faz: feijão com arroz, feijão com farinha (de milho ou de mandioca) cujas combinações originam alguns pratos típicos, como o angu de feijão, o feijão tropeiro, o tutu de feijão, o acarajé, o baião de dois e por aí vai.
JU – Quais são os alimentos ou pratos que melhor representariam a cozinha tipicamente brasileira? Quais são os critérios para essas escolhas?
Carlos Dória – Eu não sei o que é cozinha “típica” brasileira. A não ser que recorramos aos níveis mitológicos da realidade. É preciso muita mediação histórica e política para se chegar a um conceito como esse. Tomemos Câmara Cascudo como exemplo: ele parte da noção pré-concebida de que somos um mix de heranças indígenas, negras e portuguesas. Essa é uma ideia que os Modernistas da Semana de Arte de 1922 propagandeavam. Isso foi há um século e é muito difícil amarrarmos nosso burro numa coisa tão distante. Nestes 90 anos decorridos, o modo brasileiro de comer mudou imensamente!
Leila Algranti – Além dos pratos feitos com feijão, temos muitos outros pratos considerados típicos: a moqueca, o vatapá, o caruru, a tapioca, o acarajé, o barreado, o frango ao molho pardo, o virado a paulista, o cuscuz, a maniçoba, e ainda numerosos doces feitos com frutos tropicais e açúcar, para citar apenas alguns. Todos esses pratos representam a nossa cozinha muito bem.
Porém, para falar de critérios de escolha ou como cada um foi alçado ao papel de prato típico é preciso estudar suas origens e sua história. Há trabalhos já desenvolvidos nesse sentido e há muito ainda por fazer. Mas é preciso também não esquecer que assim como o nacionalismo, as identidades culinárias e ou gastronômicas resultam de longos processos de construção, nos quais múltiplos aspectos e interesses políticos entram em jogo.
 JU – Como é possível pensar sobre a possível construção de identidade nacional baseada em hábitos alimentares, visto que a culinária brasileira reflete a influência de um mosaico sociocultural formado por processos migratórios e pela apropriação de elementos de outras culturas?
JU – Como é possível pensar sobre a possível construção de identidade nacional baseada em hábitos alimentares, visto que a culinária brasileira reflete a influência de um mosaico sociocultural formado por processos migratórios e pela apropriação de elementos de outras culturas?
Carlos Dória – De onde vem a ideia de que identidade é refratária a trocas culturais com outros povos? Por acaso os imigrantes conspurcaram um corpo nacional “puro” que não existe mais? De modo algum! Somos o que somos justamente porque estamos “no mundo”, não como uma definição prévia, fora do tempo.
Somente no período de formação da nação, entre 1822 e mais ou menos 1890 esse tipo de postura, de fechamento da nação sobre si mesma, fazia sentido. Afinal, os intelectuais se perguntavam: uma nação ex-colônia está condenada a repetir a história da sua antiga metrópole? Esse é o drama de Euclides da Cunha, Silvio Romero e tantos outros. No plano da culinária, surgiu nos anos 1870 o Cozinheiro Nacional, livro que basicamente se perguntava se seria possível fazer uma cozinha nacional equivalente à francesa pela simples substituição dos ingredientes importados por ingredientes brasileiros como, por exemplo, trocar a alcachofra pela taioba. Em síntese, a identidade se faz e refaz constantemente, e para ser fértil, conectar o país com a civilização mundial, não pode se atrelar à tradição imutável.
Leila Algranti – Como já explicitado na pergunta, trata-se da construção de uma identidade e, para isso, antes de mais nada, é preciso haver um país independente e uma nação, algo que no caso do Brasil, só aconteceu no século XIX. Antes disso não temos um país chamado Brasil e tampouco uma cozinha ou cozinhas ditas nacionais. A história da edição dos livros de cozinha no Brasil talvez ajude a entender o papel da culinária na construção da identidade nacional e pode ser apenas um entre outros elementos utilizados para esse fim, tais como a existência de uma história oficial ou memória dos feitos da nação.
No caso da culinária, o primeiro livro considerado “brasileiro” publicado no Brasil intitula-se Cozinheiro Imperial; é uma obra anônima da década de 1840. Trata-se de uma compilação de receitas de dois livros portugueses dos séculos XVII e XVIII, embora no prefácio o autor enfatize a necessidade de uma publicação com características da culinária local. Contudo, só uma entre as dezenas de receitas de doces disponíveis nesse livro foi proposta com um fruto tropical. As demais evocam produtos europeus.
O segundo livro “brasileiro” de cozinha, no entanto, chama-se Cozinheiro Nacional e foi editado às vésperas da proclamação da República (estima-se entre 1874/1888). Essa obra traz várias receitas com produtos tropicais ou locais, e essas possuem títulos alusivos ao Brasil. Um caso semelhante e já estudado aconteceu com a Bélgica. Nos anos 1900-1940, para reforçar sua identidade nacional, os restaurantes e menus passaram a nomear pratos antes fortemente marcados por uma influência francesa com novos nomes, todos eles referentes a cidades, regiões ou especialidade belgas, como por exemplo, “frango assado de Bruxelas”, “arroz de carneiro à nossa moda” ou “frango a Rubens”.
Assim, influência portuguesa, italiana e alemã no caso da culinária no Brasil, ou francesa no caso da Bélgica, leva-nos a perguntar: seria possível uma cultura que não tivesse se apropriado de elementos de alguma outra?
JU – Sabendo que a alimentação é determinada a partir de condições sociais, geográficas e econômicas, é correto dizer que o Brasil não tem uma identidade nacional por causa da existência de várias cozinhas regionais (como a gaúcha, a amazonense e a baiana, por exemplo), cada uma com suas particularidades e identificadas com as especificidades de suas regiões e de seus grupos populacionais, e que acabam constituindo identidades alimentares regionais distintas?
Carlos Dória – Mesmo num país como a França, com uma centralização política forte e precoce, os regionalismos culinários permanecem e, inclusive, são hoje revalorizados dentro de uma perspectiva conservadora, como testemunhos da “velha França rural”. Mas há também uma leitura moderna, uma nouvelle cuisine de terroir, que valoriza de um modo diferente o passado.
Quero dizer com isso que sem diversidade não é possível estabelecer a dinâmica moderna da nação, que é um processo incessante de resignificação do que existe. Procurei mostrar num artigo recente (“Beyond rice neutrality: beans as Patria, Locus and Domus in the Brazilian Culinary system”, in Richard Wilk & Livia Barbosa (orgs.), Rice and Beans. A unique dish in a hundred places, NY, Berg, 2012), como um produto tão simples como o feijão, em sua diversidade biológica e de modos de fazer, permite que os cidadãos se situem na pátria, na região ou no lar. Vários produtos nos permitem esses trânsitos, mostrando que não há qualquer contradição entre identidade e diversidade.
Leila Algranti – Os autores que se dedicaram ao estudo dessa questão consideram que o nacional engloba o regional. Dito de outra maneira, a identidade regional estaria contida na identidade nacional. Para os adeptos do Manifesto Regionalista de 1926 a questão que se colocava, e poderíamos dizer que ainda hoje suscita debates, é: a afirmação de uma identidade nacional passa primeiro pela construção de uma identidade regional? Partindo-se dessa premissa, no caso da culinária, a paçoca confeccionada com farinha e carne pilada, hoje considerada um prato típico nordestino, não deixaria de ser um “prato brasileiro” ou representativo da culinária do Brasil, mesmo que preparado e consumido primordialmente no Nordeste.
JU – A historiografia da alimentação no Brasil e os novos estudos sobre as práticas alimentares têm permitido contestar o discurso construído pelo movimento modernista da década de 1920 de que a culinária brasileira descendeu da mistura harmônica de hábitos de índios, negros e brancos. Como então se delineou historicamente a gastronomia brasileira?
Carlos Dória – Gastronomia, é bom que se diga, é a busca incessante do prazer ao comer. Uma diretriz hedonista que tem muito de subjetivo e do espírito de uma época. Ela muda sempre e, mais importante, não tem uma dinâmica determinada claramente pela política, pelo nacionalismo. Há momentos nacionalistas, é certo, mas eles não conseguem perdurar por muito tempo. A ideia modernista era generosa, sobretudo em relação aos negros. Dizia-nos que os negros também pertenciam à nação. Daí a ênfase na “contribuição” negra à culinária, o que é um exagero, pois escravos não eram senhores do próprio nariz, comiam o que lhes era oferecido numa espécie de ração animal.
Como então influenciariam o mundo do colonizador? De verdade, a própria culinária do Recôncavo Baiano, que nasce nos terreiros, só aparece organizada em sistema no final do século XIX, após a Abolição e com a unificação dos cultos religiosos. Os índios? Bem, estes já haviam sido dizimados há séculos…
Leila Algranti – Essa é uma questão bem interessante. Certamente vamos encontrar na culinária brasileira elementos das práticas alimentares indígenas, africanas e portuguesas, mas também de outros povos e culturas. Dizer que a nossa comida é uma mistura das três raças ou que esta foi a base da nossa alimentação é simplificar um processo bem mais complexo de trocas e de relações culturais que ocorreram ao longo da colonização entre conquistadores e conquistados. Além do fato de ignorar conflitos e tensões.
Essa ideia de que uma “pitada” de cada uma das três raças é que teria resultado em uma cozinha híbrida ou mestiça, não satisfaz totalmente. Vamos encontrar na culinária colonial, substituições de alguns produtos e incorporações de outros, mas também transformações na forma de processar os alimentos. Então não basta apenas captar o produto final desse intercâmbio, até porque não houve ao longo da colonização um sistema único alimentar, mas sim convivência e justaposição de regimes alimentares distintos. Se ocorreram substituições, como no caso da mandioca pelo pão de trigo, sinal de incorporação de hábitos e técnicas, também houve resistências.
Ao invés de atentar apenas aos resultados desse intercâmbio, a historiografia sobre a alimentação tem destacado a necessidade de se compreender o processo de constituição do que chamaríamos de culinária brasileira, e mesmo assim só a partir de finais do século XIX.
JU – O conhecimento dos hábitos alimentares na sociedade colonial brasileira está contribuindo para a definição de uma identidade nacional? O que já foi possível se trazer à tona acerca da constituição da cozinha brasileira, sobretudo em relação à incorporação dos hábitos alimentares europeus no Brasil e à adoção de alimentos originários daqui pelos portugueses?
Carlos Dória – Não creio que o conhecimento do passado alimente a culinária. Essa é uma perspectiva duvidosa, pois a cozinha é algo vivo, algo que se pratica, não o que se rememora. A idéia de “resgate”, defendida por uma historiografia e uma antropologia muito pobres teoricamente, só encontra eco no Estado, isto é, naqueles setores da sociedade sempre prontos para “monumentalizar” a vida.
Quanto aos ingredientes, é claro que os portugueses foram o povo que mais difundiu espécies pelo mundo, através do “comércio de leva e traz”. Isso aconteceu desde o século XVI. Garcia d´Orta, um cristão novo estabelecido em Goa, formou um pomar de onde se difundiu pelo mundo português dezenas de espécies. Inversamente, as “drogas do sertão” brasileiro se espalharam pelo mundo. As coisas se difundiam por serem úteis para todos. Dessa perspectiva é dificil estabelecer fronteiras. Por mais que nos identifiquemos com a manga, a jaca, ou a carambola, elas são frutas asiáticas.
Em relação aos pratos propriamente ditos, me chama a atenção a proximidade técnica entre a antiga cozinha portuguesa de origem rural e a cozinha indígena. Ambas eram fartas em caldos, cozidos, o que deve ter facilitado muito o diálogo. Depois vieram outros povos, cuja culinária ficou confinada em guetos e demorou décadas para ser assimilada, como é o caso dos japoneses, que chegaram no final do século XIX e só impuseram sua culinária na capital paulista por volta dos anos 1970.
Leila Algranti – Tenho estudado as práticas alimentares no período colonial – as quais, sempre é bom lembrar, não se resumem à comida, pois alimentação é bem mais do que comida – a fim de melhor compreender a colonização portuguesa na América. Interessam-me a sociedade e a cultura desse período, e a alimentação se apresenta como uma chave, uma categoria explicativa que ajuda na aproximação com os agentes históricos. Os historiadores começaram a explorar a temática bem mais recentemente do que outros cientistas sociais.
Os antropólogos, por exemplo, desde o surgimento da Antropologia como disciplina, prestam muita atenção aos hábitos alimentares das comunidades que estudam. Por outro lado, nas áreas biológica e tecnológica a produção de conhecimento sobre a alimentação é também anterior. Não tenho me detido na questão da culinária como construção da identidade nacional, nem na questão dos saberes culinários em termos de patrimônio imaterial. De qualquer forma, são temas recorrentes na historiografia.
Trabalhei mais de perto com a doçaria colonial e não creio hoje que tenha ocorrido uma simples substituição de produtos aliada às técnicas portuguesas. Surgiram novos doces, houve criação e transformação, além de incorporações, o que seria inevitável. Em termos dos temperos (especiarias, ervas secas ou naturais), por sua vez, os portugueses incorporaram vários produtos americanos tanto na culinária como na botica para fins medicinais. Este é um segmento da alimentação colonial (os temperos) que estou estudando no momento. Apresentei no Colóquio da Unicamp alguns resultados dessa pesquisa.
JU – O Brasil é um país privilegiado em manifestações culinárias e gastronômicas. Entretanto, a gastronomia aparentemente não recebe a devida importância nas estratégias de promoção turística dos destinos brasileiros. Não haveria aí um paradoxo no aproveitamento dessa riqueza turística? Por que isso ocorre? Como mudar essa situação?
Carlos Dória – É verdade. O Estado brasileiro está de costas para a culinária. Se olharmos o Plano Nacional de Turismo só encontraremos lá uma única menção a comida. Mas não só o turismo. Os organismos de financiamento a pesquisas ainda acham que o tema é uma “frescura”, isto é, não pertence ao campo do que é culturalmente relevante.
É que as elites brasileiras sempre comeram olhando as mesas européias, parisienses, e olhar para dentro é mesmo uma heresia desse ponto de vista. É uma tradição distinta daquela das elites mexicanas ou peruanas. O México, graças à revolução de 1910, levou as elites a sentirem um certo “orgulho” da cultura pré-colombiana. Isso não houve no Brasil.
Por outro lado, o modelo turístico brasileiro tem sido nocivo à vida comunitária. Onde chegam os grandes pólos, como resorts, o que se vê é só desolação: especulação imobiliária, proletarização, falta de infraestrutura urbana, prostituição infantil, criminalidade. Há muitos estudos que demonstram isso. Então o paradoxo é mais profundo: se destrói quando se pensa “valorizar”.
Leila Algranti – Tendo a discordar dessa posição. Cada vez mais a gastronomia é um aspecto de interesse, haja vista o espaço que conquistou na mídia com programas na TV e canais especializados, além de cadernos semanais em periódicos importantes. As pessoas têm interesse e curiosidade em experimentar pratos típicos, mesmo sem viajar. Na chamada alta gastronomia os produtos nacionais estão cada vez mais em destaque.
O problema, me parece, não é com a gastronomia, mas com o turismo como um todo no país, onde é difícil e muito caro viajar. As facilidades de transporte dos produtos, as mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros e a velocidade nos meios de comunicação permitem um intercâmbio de conhecimentos até pouco tempo impensável. Porém, viajar para vivenciar essas experiências é certamente outra coisa.
JU – A valorização da gastronomia nacional não passa necessariamente pelo seu reconhecimento como bem patrimonial que merece ser protegido como expressão da cultura nacional? Por que isso não acontece? A falta de políticas públicas para o setor também ajuda a explicar porque a culinária brasileira ainda não tem o devido reconhecimento como bem cultural?
Carlos Dória – A valorização da culinária brasileira passa pela reforma do seu marco institucional. A legislação sanitária, por exemplo, é toda feita segundo o figurino da grande indústria. O artesanato não tem vez, pois não consegue atender às exigências descabidas no Estado no plano sanitário. É o caso do queijo Canastra, em Minas Gerais. Então, proteger significa, em primeiro lugar, elaborar um estatuto próprio de funcionamento dessa economia baseada na pequena agricultura, que aproxime produtor e consumidor sem a mediação dos processos industriais.
Esse quadro de exclusão está em contradição com os esforços internacionais por preservar modos de fazer, ingredientes e produtos ligados à pequena propriedade agrícola. A Unesco tem promovido esforços nesse sentido, visando à preservação cultural da diversidade. O mesmo em relação ao slow food. São pressões sobre o Estado e a sociedade e acabarão por produzir resultados, mas isso demorará.
Leila Algranti – Não penso que devamos ir transformando saberes culinários e alimentos em bens culturais ou patrimônios nacionais velozmente. Há excelentes estudos e especialistas que advertem sobre essa tendência patrimonializadora. Tivemos uma mesa-redonda no evento sobre História da Alimentação, na Unicamp, dedicada a essa questão do patrimônio. O tema é polêmico e foi defendida a posição de que um saber culinário deve ser entendido para além de seu valor identitário. Muitas vezes esses saberes são formas de sobrevivência para muitas famílias e é isso que deve ser estimulado: a vivência, a dinamização de uma região, a tradição do modo de fazer e a sobrevivência desse envolvimento humano com a natureza e com a terra. Tendo a concordar com tal posição no momento e penso que é mesmo importante perguntarmos: o que desejamos preservar? O que se teme perder?
JU – Associada à imagem de charme e glamour, a gastronomia transformou-se em um fenômeno de massa no Brasil atualmente. A culinária ocupa espaços em dezenas de programas de televisão, cresce o número de cursos superiores na área e chefes de cozinha são elevados ao patamar de celebridades. A que atribuir esse aumento de interesse do brasileiro pelo assunto? Em que medida isso contribuiu (ou não) para a melhor percepção do valor cultural da alimentação na vida cotidiana?
Carlos Dória – É verdade. Nunca se falou tanto em comida no mundo. Talvez porque nunca, como agora, as pessoas estiveram tão desenraizadas de um conhecimento sobre alimentação e nutrição. Nos EUA, uma família só se reúne em torno da mesa umas 4 horas por semana. O resto do tempo é cada um por si. O Brasil segue esse caminho, e nos estratos superiores de renda, 50% dos gastos com alimentação já são efetuados fora de casa.
Quem ensina essa gente a comer? Ainda não é a escola. Então, surge a grande oportunidade para os meios de comunicação, para a glamourização dos chefs como a personificação de cozinhas sem cara e assim por diante. É um fenômeno mundial, com seus reflexos no Brasil. Mas falar sobre comida é um traço cultural melhor do que não falar sobre comida. Estamos nesse caminho, e podemos nutrir esperanças de que formaremos gerações culinariamente mais cultas do que somos.